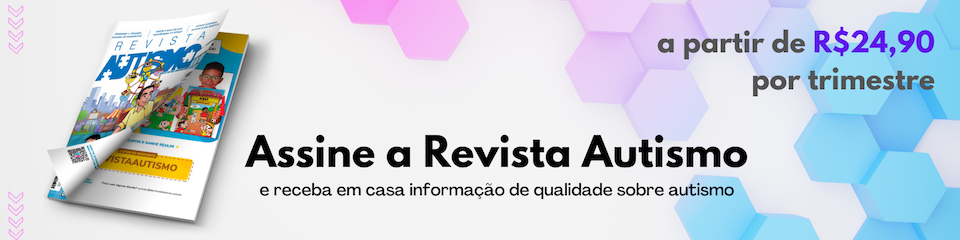Tempo de Leitura: 5 minutos
O ano é 2020. A comunidade do autismo no Brasil, segundo sua lógica do dia a dia, continua a debater a importância das intervenções, o desafio da inclusão e as novas perspectivas para a identificação do autismo. Tudo parece harmonioso, adequado e ideal, enquanto fora do reino encantado do espectro, as tensões da humanidade seguem.
Ora, sabemos que não é exatamente assim. Mas para se discutir raça, tema tão fundamental para se pensar o Brasil, a comunidade do autismo precisa fazer um longo percurso de raciocínio voltado a uma trajetória marcada pela invisibilidade. Se de acordo com os dados agregados pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção do governo dos EUA, o CDC, a grande defasagem de diagnóstico por lá centra-se na população latina, aqui no Brasil a população negra parece ser o centro de uma grande subnotificação.

Vitor Rodrigues: “O vizinho perguntou quanto cada um estava recebendo pra colocar telhas dentro do quintal, mas os dois eram os proprietários da casa”.
Mas autistas e famílias negras – ou pretas, como alguns preferem se intitular – existem, e esta reportagem produzida pelo Introvertendo, o Mundo Autista e a Revista Autismo tenta compreender quem são estas pessoas que desafiam as estatísticas e fincam sua existência numa comunidade que raramente as reconhece.
Autistas negros
Vitor Costa Rodrigues tem 23 anos. Jornalista, é um dos diretores da associação Núcleo de Apoio e Inclusão do Autista (Naia). Diagnosticado com autismo, reside com a família no bairro Cândida de Morais em Goiânia (GO), localizado na mais periférica e estigmatizada região da cidade, a noroeste.
O jornalista recorda-se bem quando percebeu que era uma pessoa negra. “Estávamos reformando a nossa casa e meus pais estavam aqui na rua de casa, colocando pra dentro do nosso quintal um carregamento de telhas. Os dois foram abordados por um vizinho que perguntou para ambos quanto cada um estava recebendo pra colocar aquelas telhas dentro do quintal, sendo que na verdade os dois que eram os proprietários da casa”, lamentou.
A procuradora Fernanda Coelho, 37 anos, diagnosticada autista há quatro, se preocupa que a maioria das pessoas autistas negras estejam sem diagnósticos ou com diagnósticos equivocados, sem acesso a direitos. “Isso tem impacto direto na interação social e no sentimento de pertencimento ao grupo, uma vez que crianças autistas estão muito mais suscetíveis a serem vítimas de bullying”, pondera. O filho e a mãe dela também foram diagnosticados, aos 8 e 54 anos. Fernanda percebe a mãe já muito comprometida dentro do espectro por manejo inadequado da condição e vários diagnósticos errados.
Famílias atípicas
A jornalista Gabriela Guedes, nascida em São Paulo, mãe de Gael, autista de 4 anos, traz, em seu Blog “Mãe atípica preta”, um recorte do autismo voltado para a questão social e racial das pessoas pretas. Ela conta que a luta das mães e das crianças pretas é diferente.
Gabriela explica que a maternidade típica e atípica preta se encontram nas dificuldades de acesso à consulta, aos tratamentos, aos diagnósticos e acompanhamentos necessários. Porém a mãe atípica preta tem o impacto dos fatores sociais, econômicos e raciais mais intensos, o que dificulta a permanência das crianças autistas pretas nos tratamentos adequados.
Para dar visibilidade ao autismo em pessoas pretas, ela se reuniu com outra mãe, a Luciana Viegas, e formaram um coletivo para diminuir ou mesmo eliminar esse abismo entre o autismo de crianças pretas e brancas. Gabriela é enfática ao afirmar: “Para mim, o autismo nunca foi problema. O problema se concentra em lidar com as diferenças sociais, raciais, além das questões capacitistas.” E finaliza: “O racismo e o capacitismo sempre vêm atrelados.”
Já Luciana Viegas tem um filho autista e que também se identifica com o espectro. Tanto ela quanto seu filho foram alvos de comentários racistas de profissionais. “Todas as violências mais abusivas e racistas que eu passei foram dentro de um consultório. É muito comum eu entrar em um médico e não conseguir falar nada”, denunciou.
Ela afirma que, ao longo de sua trajetória na comunidade do autismo, percebeu dissonâncias relativas à cor. “A comunidade brasileira do autismo é embranquecida, não temos representatividade de autistas negros, não temos visibilidade”, frisou.
A riqueza de um passeio pela negritude de nossa gente
O professor Milton Santos (1926 – 2001), reconhecido mundialmente como um dos maiores geógrafos brasileiros, disse no texto “Ser negro no Brasil hoje”: “A naturalidade com que os responsáveis encaram a discriminação, o racismo e o preconceito é indecente, mas raramente é adjetivada dessa maneira. Trata-se, na realidade, de uma forma do apartheid à brasileira, contra a qual é urgente reagir se realmente desejamos integrar a sociedade brasileira de modo que, num futuro próximo, ser negro no Brasil seja, também, ser plenamente brasileiro no Brasil.”
Luana Tolentino, 33 anos, mestra em Educação pela UFOP, professora de História em escolas públicas e, atualmente, professora universitária é autora do livro “Outra educação é possível: feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula”, lançado em 2018. Ela conta, no livro, sua trajetória como professora da escola pública, na educação básica e, com assertividade, nos mostra que a produção dos saberes não se restringe à academia. Para ela, “os professores da educação básica também podem produzir o conhecimento.”
Entre novos e velhos saberes, Luana comenta que estamos atravessando um “período de arrefecimento da luta antirracista pois, para ela, “os racistas, deliberadamente, saíram do armário.” “A situação exige, portanto, a resistência das pessoas pretas que, há mais de um século, denunciam os impactos do racismo.” Nessa resistência, Luana aponta que a expressão “lugar de fala” foi deturpada para ser o lugar do conforto, da omissão. “Mas não ser preto não pode silenciar e imobilizar as pessoas”, complementa. Por fim, Luana Tolentino afirma que “as mulheres pretas são atravessadas por questões de gênero, raça e de classe, já que a maioria delas é pobre.”
Muito além do senso comum
Táhcita Mizael, 31 anos, é autista e negra, e atualmente pós-doutoranda na área da psicologia pela USP (Universidade de São Paulo). Para ela, é importante compreender a articulação das características do autismo com outros fatores que compõem o indivíduo e impactam a trajetória dele, “como gênero, etnia e orientação sexual”.
Ela reforça a importância do dia da Consciência Negra, assim como outras datas destinadas a grupos específicos. Segundo Táhcita, reproduzir discursos que invalidam a necessidade da data diferencial é uma forma de violentar a população negra, como se todo o sofrimento fosse um “relato falso”.
A pesquisadora lembra que, historicamente, o conhecimento foi majoritariamente constituído por brancos. “Isso não significa que necessariamente essas percepções estejam erradas, mas no mínimo incompletas.” Por isso, ela destaca a importância da diversidade na produção do conhecimento e que haja reconhecimento da perspectiva que molda o olhar de cada pessoa sob os fenômenos observados.
 Selma Sueli Silva
Selma Sueli Silva