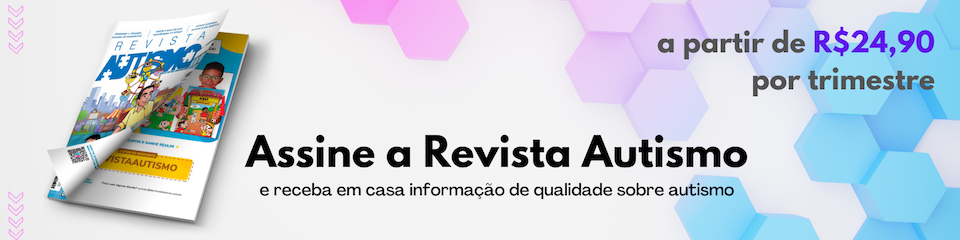Tempo de Leitura: 4 minutos
Sobre o contexto que inspirou o texto desta coluna, ele envolveu circunstâncias bem peculiares: recentemente, participando de uma live organizada por um colega, tive que responder a uma pergunta inesperada que me deixou numa bela saia justa. Já no final do encontro, meu colega pediu minha opinião sobre o seguinte tópico: considerando os casos de autismo grave e de autismo leve que têm tão poucas características em comum, qual seria a minha opinião sobre usarmos a mesma categoria diagnóstica para fins de classificação e tratamento?
Para minha sorte, a live excedeu o tempo permitido pela plataforma e a resposta acabou não sendo transmitida, nem foi gravada. Não que minha resposta tenha sido péssima, mas respondi sem a necessária reflexão. Privilégio esse que tenho agora.
Do que meu colega estava falando? Ele se referia ao fato de que, desde de 2013 com a publicação do DSM V, temos olhado para o autismo como uma categoria diagnóstica abrangente que envolve vários graus. O transtorno do espectro autista, como descrito no referido manual, é caracterizado por alterações na comunicação social e comportamentos repetitivos ou interesse restrito que se manifestam na infância e podem ou não ser acompanhados por marcadores genéticos identificáveis. Dentro ainda dessa categoria diagnóstica (e, repita comigo, autismo é uma categoria diagnóstica inventada pelas pessoas, não uma essência humana criada por um deus), distingue-se entre ocorrências graves, moderadas e leves.
A distinção entre os diferentes níveis de autismo é mais complexa do que pode parecer. É comum associarmos deficiência intelectual e ausência da fala ao autismo grave. E isso, quase sempre, se mostra adequado. Mas a classificação, tal como sugerida, envolve principalmente o grau de comprometimento funcional e o nível de suporte que o indivíduo necessita.
Dentro dessa nova categoria, portanto, colocamos os indivíduos que antes eram classificados como Asperger, os indivíduos com formas leves de autismo, aqueles com habilidades sensacionais e também aqueles com as formas mais graves. Todos autistas. Não como se fossem iguais, mas como se tivessem o suficiente em comum para serem considerados juntos para fins de diagnóstico e tratamento (sim, é para isso que servem os manuais diagnósticos).
A questão diretamente colocada por meu colega, portanto, foi: será que há o suficiente em comum para ser útil uma categoria diagnóstica única e abrangente como essa? Nas entrelinhas, no entanto, havia muito mais do que apenas isso… Será que é positivo que eles tentem representar uns aos outros? Será que eles precisam dos mesmos cuidados e proteção?
Para explorar um pouco tanto a questão principal como as entrelinhas da pergunta, vamos revisitar a história dessa alteração diagnóstica: O DSM V, principalmente a categoria AUTISMO, sofreu uma mudança profunda que se iniciou por volta de 2009 (talvez um pouco antes), embora a publicação do manual tenha ocorrido apenas em 2013. Foi muito controverso o processo que resultou nessa alteração. Na ocasião, eu ainda morava nos arredores de Boston, nos Estados Unidos, bem próximo de onde os “bam-bam-bans” da ciência se reuniam para produzir os novos critérios. Conversávamos sobre isso no cotidiano do trabalho e acompanhávamos as notícias e os rumores. Não havia consenso nem entre nós. A questão maior era — e continua sendo — a eliminação de uma categoria separada – Asperger – para essa forma tão peculiar de transtorno de desenvolvimento.
Por que foi feita essa mudança? Porque fazia sentido do ponto de vista da ciência? Porque eles têm o suficiente em comum para serem tratados do mesmo jeito? Talvez houvesse argumentos nesse sentido, não sei dizer. Mas conheço outros argumentos também. Para citar apenas alguns eventos mais relevantes, em 1990 foi criado nos Estados Unidos um conjunto de leis extremamente robusto que expandia e aprofundava a legislação anterior. Essa legislação, conhecida como IDEA (Individuals with Disabilities Education Act), entre outras coisas, incluía o autismo na categoria de deficiência e garantia a essa população todas as coberturas educacionais que já se aplicavam (EAHCA, 1975, 94-142) a indivíduos com outras deficiências. Foi uma mudança gigantesca nas coberturas para os autistas. Difícil descrever a quantidade de ganhos diretos e indiretos , de benefícios, proteções e direitos que isso trouxe aos autistas. Os anos que se seguiram apenas aumentaram e sofisticaram esses ganhos com outras mudanças nos textos originais da legislação.
Porém, um grupo importante ficou esquecido nesse processo. Ficou à margem dos milhões de dólares do governo federal americano destinados a programas educacionais e de apoio (incluindo as especialidades que aqui no Brasil são restritas à saúde). Foi o grupo com diagnóstico de Asperger.
Resumindo, ainda que possa ter existido razões da ciência, foram – sem dúvida- as razões da política e da economia que impulsionaram as mudanças que estamos discutindo nos critérios diagnósticos. Os esforços poderiam ter sido dedicados à alteração da legislação em questão, de modo a incluir a população Asperger nas proteções da IDEA, mas isso envolveria lobby do mais alto nível em Washington. E o lugar dos Asperger dentro do conceito do autismo, embora ainda não oficial, já existia e era bem estabelecido. Fazia, portanto, todo o sentido pensar em uma revisão dos critérios diagnósticos.
Vamos agora para 2021, no Brasil. O que isso tudo nos trouxe?
Alguns ganhos são óbvios: A população autista ganhou número, peso, influência e representatividade. Isso trouxe e continua trazendo grandes ganhos para todos os segmentos do espectro. Famílias de autistas leves e graves, autistas leves ou os antigos Aspergers têm sido os grandes protagonistas nessa história. Muito mais do que qualquer um de nós, profissionais, são eles quem tem impulsionado as mudanças políticas e culturais que estamos observando.
Por outro lado, vemos também uma profunda divisão. Uma divisão, infelizmente, hostil. A tentativa de uniformizar as reivindicações e o discurso entre os extremos opostos do espectro tem apenas enfraquecido a todos. Não há um discurso comum para necessidades tão diferentes. O que tem que haver é respeito às diferenças de visão e às diferentes demandas. O autista leve não representa o autista grave ou seus interesses, não importa o quanto grite por isso. Da mesma forma, as famílias de autistas graves não conhecem as dores e desafios daqueles no quadro leve.
Ajudariam mais a si próprios se pudessem se somar, respeitando as muitas coisas que não lhes são comuns. Sem isso, uma nova edição do DSM em um futuro não tão distante deverá ser escrita pelos homens e mulheres da ciência para, muito possivelmente, colocar tudo isso em uma outra direção.
 Meca Andrade
Meca Andrade