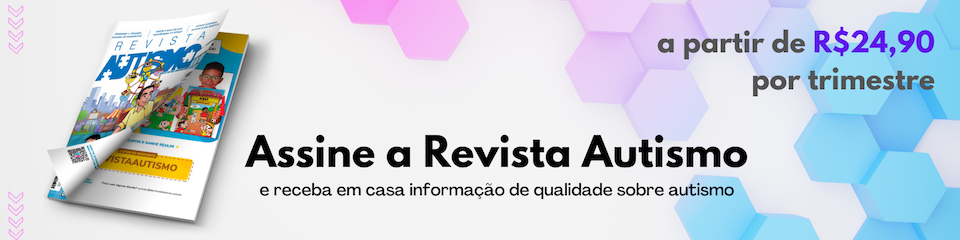Tempo de Leitura: 9 minutos
Quem seria a pessoa mais indicada para falar sobre autistas poderem morar fora da casa dos pais? Certamente um autista que mora longe dos pais! Uma dessas pessoas é o Luiz Noronha, 32 anos, que não mora com a família desde 2007, quando saiu da pequena São Gonçalo do Sapucaí, sul de Minas Gerais, e foi para São Paulo.
Nossa conversa com Luiz abre esta matéria e retoma a série de reportagens “Moradia para pessoas com autismo”, publicadas nas edições 7 e 8 desta Revista —“O direito ao seu próprio lugar” e ”A utopia possível”, respectivamente—, além dos mini documentários (partes #1/3; #2/3 e #3/3). Um tema fundamental para a qualidade de vida desse grande segmento da sociedade, que impacta profundamente as famílias, mas é deixado em segundo plano.
A série foi interrompida pela pandemia, mas a questão persiste e ganhou contornos ainda mais nítidos. Foram várias as notícias de mães e pais não idosos, além de avós e responsáveis por jovens e adultos, que faleceram de Covid-19 sem que houvesse, previamente, acontecido a transição em que os filhos já tivessem sua residência “adulta” estruturada.
A pandemia expôs o que as famílias ainda se negam a encarar: nós, mães e pais, não somos eternos, e tão certo quanto nossa partida é o fato de que ela pode acontecer a qualquer momento. Já essa transição, enquanto os pais ou responsáveis estão vivos e aptos a acompanhar o processo, encorajando e apoiando seus autistas e/ou pessoas com deficiência, faria com que jovens e adultos fossem poupados do desgaste de enfrentar uma mudança radical e inesperada do cotidiano, somada à própria tragédia de perder o ente com quem viviam.
Vida independente em 15 anos de construção
Na vida do Luiz Noronha, a mudança ocorreu naturalmente. “A decisão foi conjunta [com a família], quando eu tinha 18 anos e estava prestes a começar a fazer vestibulares”, conta ele. Desde então, Luiz experimentou três modalidades diferentes de moradia. “Estudei na Universidade de Taubaté [em Taubaté-SP], morei numa kitchenette lá, tinha uma moça que limpava a casa pra mim e era bem isolado”, ele conta, além de ter dividido um apartamento com outra pessoa que conheceu pela página do Facebook @dividirapartamento. “Atualmente, alugo um quarto com direito a usar a casa toda, na Vila Mariana [São Paulo}, onde moro até hoje, desde setembro de 2014”.
A Vila Mariana está entre os bairros preferidos para se morar na capital paulista, tem ótima infraestrutura, localização privilegiada — próxima à Avenida Paulista e ao parque mais famoso de São Paulo, o Ibirapuera — e acesso à toda a cidade, com três estações de metrô e múltiplas linhas de ônibus. “Eu uso o transporte coletivo, depois da pandemia continuei usando, apenas não aglomero com pessoas. A distância pode ser um problema dependendo do horário que você deseja, mas tendo uma tolerância mínima (de atraso) em qualquer evento, é tranquilo”, explica Luiz. Ele acredita que, no momento, a localização de sua casa ajuda a vida independente, em todos os lugares onde trabalhou, a mobilidade não foi problema.
Questionado sobre o que morar sozinho lhe proporcionou, Luiz cita como vantagem “poder viver na cidade que tem mais opções”, mas acrescenta que não ter mais contato com pessoas com quem conviveu quando era criança, nem ver muitas pessoas de sua cidade são pontos positivos, e considera que sua vida “passou a ser mais tranquila”. Quanto às desvantagens, cita: “Estar longe de minha gata. O nome da gata é Clarissa”, e como qualquer jovem, autista ou não, dispara: “Não poder comer a comida de minha mãe”.
Trabalho, independência e foco no futuro
Luiz foi estagiário na Defensoria Pública de São Paulo de 2011 a 2014. Depois de formado, trabalhou numa locadora de carros, como PcD, mas a empresa fechou e ele arranjou um novo emprego num escritório de advocacia. “Não me dei muito bem, pois lá o ambiente era bem agressivo e desacolhedor”, conta Luiz, que não desistiu e acabou conseguindo algo melhor: “Fiquei 3 anos e meio num grande escritório [de advocacia] onde foi muito acolhedor, trabalhando por 1 ano e meio em home office”. Durante a pandemia, um concurso que prestara para um cargo público o chamou, e hoje ele trabalha na Prefeitura de São Paulo.
Sobre a pandemia, Luiz diz que sua maior dificuldade foi a adaptação ao uso de máscara, mas está se acostumando, e quando perguntado se em algum momento pensou em voltar para a casa de seus pais, ele é enfático: “Não pensei em voltar pois estou pensando no futuro, que é ter um apartamento próprio. O meu objetivo agora é comprar um apartamento simples para viver”.
Inovação em 1993
Oferecer aos adultos com deficiência intelectual um futuro, numa opção de vida não atrelada à convivência em família. Era 1993, e pouco se falava sobre inclusão no Brasil, quando a Aldeia da Esperança recebeu seus primeiros residentes em Franco da Rocha, cidade da região metropolitana da São Paulo.
O projeto inovador do CIAM – Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar –, de São Paulo, foi adaptado pelo brasileiro Ariê Pencovici e inspirado no kibutz Kfar Tikva que ele dirigia em Israel. Um kibutz é uma forma de coletividade comunitária autônoma israelita, caracterizada por uma organização igualitária e democrática onde as pessoas vivem e trabalham. O modelo em Israel é o da comunidade inclusiva e um “lar para a vida”, onde os esforços visam fornecer aos residentes o máximo de escolha e autonomia possível diariamente, atendimento e serviços personalizados, incluindo uma gama de atividades enriquecedoras e oportunidades para se integrar na comunidade em geral em todas as fases da vida.
Na Aldeia da Esperança, havia um programa de residência assistida com casas individuais para cada residente, até hoje único no Brasil, não associado à política pública, que se baseava na locação das moradias, pagas pelos familiares. O projeto Aldeia da Esperança durou até 2019, era dimensionado para cem residentes, mas essa ocupação nunca foi alcançada.
Buscamos detalhes sobre a vida na Aldeia em uma conversa foi com Mário Martini, que mora em Jundiaí, cidade vizinha à Franco da Rocha, é psicólogo com décadas de dedicação ao trabalho social e ex-diretor da Aldeia. Ele descreveu um trabalho bastante árduo entre residentes que já chegavam com um sistema de vida funcionalmente organizado e outros com muita dificuldade. Sua convicção é que o desenvolvimento vinha, não pela patologia, eram adultos de 25, 30 anos, já haviam passado por médicos e diagnóstico. Ali, o que trazia resultado para vida prática, muitas vezes, era o trabalho de aquisição de coisas simples: amarrar um sapato, dar e receber um abraço. “Precisa amar pra caramba, é preciso estar junto, gostar muito, é preciso querer. Não tem que entender de patologia, para isso tem que entender de gente”, nota Mário.
O projeto original era para manter a individualidade, cada um com sua casa, mas houve casas com duplas que se mostravam possíveis. A fisioterapia era uma preocupação muito forte, havia uma estrutura física muito boa na Aldeia para isso, “Era um custo muito alto e nenhum convênio governamental cobriria, para manter a estrutura, era sempre uma batalha”. O equilíbrio seria de 50 ou 60 residentes para zerar o custo. “Tem público, mas não tem público com dinheiro pra manter os custos”, ele opina, e diz que a residência terapêutica é raro e caro. “Só que cuidar de gente não é caro. Caro é largar… o custo vai se multiplicando. Fora o abandono”.
Mário aponta que, para os residentes, a vantagem era a paz de eles poderem ser o que eles eram. Cada um podia se expressar da maneira que necessitava e conseguia, e ser respeitado, além de também contribuir com o trabalho do jeito que ele pudesse. Por outro lado, ele opina que “Havia pouca possibilidade de viver sem controle, [o projeto] não ousou nesse sentido” de “uma comunidade com cidadãos, porque eles gostavam da Aldeia, onde era, inclusive, construída essa autonomia de ir morar fora, ter seu apartamento”.
“As residências eram isso. Cada um tinha a sua característica, o seu potencial. Cada um era olhado em sua busca de qualidade de vida. Então o desejo continuo da aldeia era esse: e tem que trabalhar muito. A frustração não pode ser o problema. O problema é desistir.”
Vida independente no Rio de Janeiro, 2021
Quase trinta anos depois, a ousadia envolve a entrega de residências individuais ao grupo de jovens do projeto-piloto do Instituto JNG, em novembro de 2021. A proposta do JNG é visceralmente condizente com as demandas e a realidade social urbana dos grandes centros, decorrente, em grande parte, da Educação Inclusiva e do custoso e acidentado percurso visando a mudança de um perfil cultural de “isolamento protetivo” para o dos direitos e da diversidade, sobretudo pós Declaração Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
A primeira moradia independente para pessoas com deficiência do Brasil está no Rio de Janeiro e tem como protagonistas Eduardo, 30; Juliana, 26; Manuela,26; Nicolas, 30; e Pedro, 31, seus primeiros moradores. Cada um tem seu apartamento, sua privacidade e sua própria rotina. “Em primeiro lugar, o ponto de observação deve ser centrado na pessoa com deficiência” é a afirmação de Flávia Poppe, diretora do Instituto JNG, que conversou conosco, do apartamento de seu filho, um dos residentes do projeto-piloto, e frisa: “A rotina é de cada um: se um acorda cedo, ou tarde, se vai pro trabalho, se não vai, se vai fazer outra coisa”.
O projeto-piloto não tem prédio exclusivo, funciona em uma unidade do U-Living, uma moradia estudantil presente em algumas grandes cidades, com moradores diversos, com ou sem deficiência, localizado no Flamengo – também um bairro preferido entre os moradores da cidade, com parques, metrô e demais itens estruturantes para uma pessoa se integrar à comunidade local. “Eu acho que o modelo hoje, deve haver essa opção urbana porque a inclusão deve se dar de uma maneira naturalizada”, explicou Flávia.
O projeto tem um lema que já traduz a visão contrária ao capacitismo do Instituto JNG: “Juntos Podemos Viver Sozinhos”, e traz em seu bojo o conceito housing first – que já norteia programas sociais na União Europeia e nos Estados Unidos –, no qual a moradia deve ser o primeiro passo e tudo vem a partir dela. Mas, como fazer isso na prática, considerando as realidades de pessoas com deficiência? Flávia foi até a Inglaterra e encontrou um modelo que responde à questão e a soluciona. “O modelo inglês é o Ability Housing, que foi traduzido, adaptado e estamos aplicando. Não é uma franquia, mas é totalmente inspirado nele”. A diretora e mãe fala com a convicção de quem viu o modelo funcionando na Inglaterra e diz estar vendo agora [no Rio de Janeiro] algo muito próximo do que observou lá.
Apoio: a inteligência do projeto
“O marco diferencial do que nós estamos oferecendo é a privacidade. Assistindo a essa série que foi lançada, ‘As we see it”, é uma série muito legal, e do ponto de vista da moradia, eu só fico corroborando a importância de você ter um espaço privativo (…) um apartamento em que você tenha o seu banheiro, a sua cozinha, se você quiser comer sozinho (…) se você não quiser sair, você tem tudo e você se vira.”
Sobre como vem funcionando, na vida real, o projeto ao longo dos três primeiros meses, Flávia ressalta que a base de apoio é realmente o lastro de tudo isso, é a viabilização do projeto. E nesse tempo já se percebeu que esse apoio é uma referência, que se torna uma espécie de ponto de encontro, essa é uma indicação a mais de que o espaço para a base de apoio precisa estar num local de visibilidade e fácil acesso.
Essa base é um local no prédio, e os residentes sabem que ali está toda a referência. Tem pessoal 24 horas por dia em rodízio, coordenação e interlocução com as famílias e profissionais de saúde de cada morador. “Por outro lado, esse apoio não é espontâneo e improvisado no dia a dia”, pormenorizou Flávia, “existe uma ‘inteligência na base’ que é a avaliação de perfil que foi feita [previamente] do residente (…) a metodologia que a gente trouxe da Inglaterra”. “E essa avaliação de perfil não é pra saber se a pessoa é apta ou inapta pra morar sozinha. É pra conhecer o tipo de apoio que ela vai precisar e a quantidade de horas. No final isso vai determinar o preço. Então, o modelo é feito pra qualquer nível de severidade da deficiência, porque a pessoa com muita necessidade de apoio ou muita dependência vai ter um apoio de muitas horas, e a pessoa com pouca necessidade vai ter um apoio de menos horas”.
Desse processo sai uma avaliação mais robusta, que é a base do projeto para ser replicado. “A pessoa com mais dependência no projeto [piloto] é o meu filho (Nicolas é um dos residentes que está no espectro autista), nesses três meses a gente já fez um ajuste, começamos com uma estrutura de apoio excessiva e rapidamente percebemos que estava superdimensionada” conta Flávia. Coisas que avaliação de funcionalidade apontou como complexas mostraram-se naturalmente vividas pelos moradores. “E isso é muito importante, aí o “housing first” funciona, o fato de você estar sozinho na sua casa, ele vai naturalmente buscar o que precisa fazer. É natural!, enfatiza.
“Tem muita frente de batalha pra seguir, mas eu acho que a pior frente de batalha que existe, o que está muito atrasado é: a família não está vendo isso ainda!”, ela frisa e explica que “a solução do Instituto JNG é muito interessante, porque é uma relação profissional, uma equipe que sabe como ajudá-los a como desenvolver habilidades. Eles [os jovens moradores] assumem as suas vidas e tem gente ali. É uma química que a gente espera que prolifere, porque até aqui, está tudo nas costas das famílias.”
O fio condutor das três experiências parece estar na certeza de que limites existem para serem superados, e é nosso dever, como cidadãos e humanos, buscar o impossível que pode estar bem ao nosso alcance se nos despirmos da nossa pretensa “normalidade” para vestir a coragem de derrubar preconcepções alicerçadas em nossa tradição. Coragem que não tem faltado ao Luiz Noronha, que compartilha o conselho: “Tendo a pessoa um autismo leve quanto o autismo pesado (…) dependendo do mundo que ela vive, ela deve buscar modos de como dá pra viver no futuro e se estiver dentro da realidade, vá em frente”.
 Márcia Lombo Machado
Márcia Lombo Machado